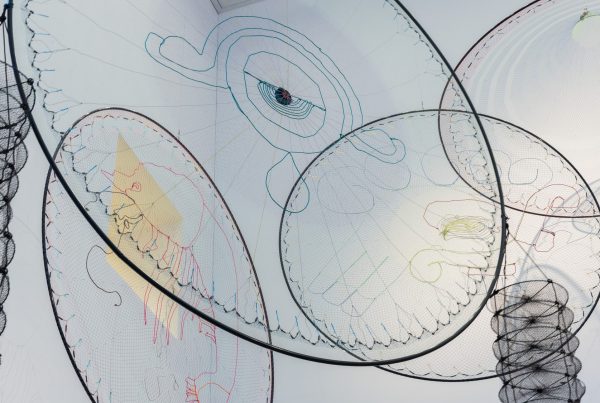“De onde vem a canção?” perguntou Lenine outro dia. Tenho tantos palpites que não chegarei nunca a uma resposta. Nem quero, me agrada pensar justamente que a canção nasce da multiplicidade, do possível. É, para alguns, aquele velho problema de responder uma pergunta com outra pergunta. Mas como é bonito perguntar de onde elas vêm. No fundo, é um convite para dançar: uma íntima conversa entre o que ela diz e o que eu digo sobre ela. Lenine sabiamente apostou nessa beleza:
“De onde? De onde vem? De onde vem a canção quando se materializa num instante que se encanta? Do nada se concretiza? De onde vem a canção?”
Pra quê tentar responder? A pergunta diz muito mais. Qualquer tentativa de resposta traria desencanto, assassinando assim o próprio encanto de sua gênese. Mas Lenine não pediu por uma resposta. Nós é que nos acostumamos a pensar que toda pergunta deve ser respondida, que todo ponto de interrogação é necessariamente uma falha, um defeito no aparelho pelo qual enxergamos o mundo. Não é novidade que a procura pela verdade problematiza o real. Pois eu concordo com Lenine, é muito mais divertido perguntar. Como quando a criança começa a brincar de perguntar “por que?” e jamais se sacia.
“De onde? De onde vem? De onde vem a canção? Quando do céu despenca, quando já nasce pronta, quando o vento é que inventa de onde vem a canção?”
Na música, o ritmo em que as questões são postas se desloca constantemente, pois a pulsação inicial, dada pelo som de algo parecido com um relógio, vai atrasando, passeando entre tempo e contratempo. O que nos impulsiona, assim, a seguir perguntando. É da natureza da pergunta nos transformar, nos mover, nos transfigurar enquanto a resposta congela, paralisa, resolve. Que haveria de belo na pergunta se para ela encontrássemos uma só resposta? Uma pergunta por vez, vamos bailando entre o sim, o não e o imenso universo entre eles.
“Pra onde vai a canção quando finda a melodia? Onde a onda se propaga? Em que espectro irradia? Pr’onde ela vai quando tudo silencia? Depois do som consumado, onde ela existiria?”
Nesta segunda parte, outra questão se coloca. A mudança na harmonia e no ritmo do violão indicam que fomos levados para outro lugar. Encaramos agora uma pergunta muito mais nebulosa, bastante curiosa. É a hipérbole da dúvida anterior, um exagero. É mais uma brincadeira. Para quem tentou responder a primeira, um desafio. Nos leva a pensar sobre o quê acontece com o que aconteceu. Pra onde vai o tempo quando passa? A música quando acaba? A vida quando morre?
“De onde? De onde vem? De onde vem a canção? De onde? De onde vem? De onde vem a canção? De onde? De onde vem? De onde vem a canção?”
Brincando, gostaria de dar uma resposta. De onde? De nós. Onde ela irradia? Em nós. Ela se continua em nós como uma só superfície, como o contato de uma pele com outra. Ela nos atravessa, ressoa em nós e pode ser percebida como o trem que passou pode ser sentido pela vibração dos trilhos. Minha resposta é bela na mesma proporção em que é falsa. Tão melhor, não preciso me preocupar como sendo a única. Tenho assunto para me divertir à vontade, posso inventar mais infinitas hipóteses. Aqui, não há o peso da Verdade.
No relógio, 2 minutos e meio de canção. No corpo, horas e horas de duração. Penso num relógio de pêndulo, sua mesura se dá a despeito do tempo da canção, seu balançar existe para além do ritmo próprio da música, mas não deixa de se relacionar com ela, mais ainda, nunca deixa de possibilitá-la. Tratando de canções como essa, ouvir é muito pouco. É preciso um encontro. Um encontrão, como se diz nas ruas. Bater de frente com as questões. O que se constrói de mais belo nesta música, é a última estrofe. É a mera repetição das perguntas, pelo puro gosto de fazê-las. O ritmo tresloucado ao longo da composição, a voz, o violão e a marcação desencontram-se no encontro final. Encaixam-se em pleno desacordo. Aceitamos as perguntas, enfim.