Eu choro com constância, mas não só de tristeza. Nasci com os olhos rasos. O fato de chorar me acompanha de perto desde pequeno, mas por muitos anos eu o tenho combatido. Ainda hoje me envergonho das lágrimas. No entanto, percebo que essa vergonha me faz fugir – dos outros, de mim. Algumas das coisas mais bonitas que senti, eu engoli junto com o choro; em alguns dos momentos mais tristes que vivi, eu escolhi chorar isolado. Não vejo isso como algo bom, e tenho enfrentado esse medo de aparecer vulnerável. Tenho chorado como sempre, mas não suporto mais fazer isso sozinho: digamos que agora transbordo.
Me lembro de um dia na escola em que uma professora de história caiu em prantos durante uma aula sobre a ditadura militar (ela havia perdido os pais para os assassinos). Alguns dos meus colegas buscaram água, ofereceram lenços, ajudaram-na a sentar. Eu não. A vulnerabilidade da professora, por quem eu tinha muito carinho, me causou uma catarse. Afundei a cabeça nos braços, e passei o resto do dia a esconder os olhos vermelhos.
Sempre me foi difícil a vergonha por chorar tanto. Muitas foram as sessões de cinema em que eu tranquei a garganta, sufocando os movimentos que me aconteciam, com receio de que a pessoa ao lado – mesmo desconhecida – percebesse. Não sei se por sorte ou azar, nunca fui hábil em conter o choro: eu até me seguro, mas o queixo começa a tremer, os soluços a escapar, os olhos a encher, e eu inclino a cabeça, tento enxugar, penso em outra coisa, mas não tem jeito, eu costumo chorar.
Durante a maior parte da minha vida, eu senti a necessidade de chorar como um problema, alguma espécie de maldição, uma meninice insuperável, um desvio insuportável, que podia acontecer a qualquer momento, por causa de uma palavra carinhosa, melodia delicada, grosseria gratuita ou saudade pontiaguda. Era assim, uma coisa inesperada qualquer e pronto, eu perdia o controle, tinha que disfarçar, me recolher, fugir ou fingir, dizendo não é nada, não é nada; agora não é mais, tenho me sentido menos ridículo por chorar com facilidade.
Sim, eu sei que menos ridículo ainda não é suficiente, mas não tem jeito, algumas situações ainda me incomodam: às vezes o choro me atrapalha a contar um causo ou cantar uma canção. Estou mais à vontade do que antes, é verdade, mas continuo lidando com o desconforto de vazar. Tenho ruminado sobre isso há anos, incomodado com o imperativo da contenção, busquei diversas perspectivas, abri brechas na barragem, mas ela continua firme.
Uma dureza me foi imposta, claro. A masculinidade pesa sobre os homens que choram. Junto dela, uma heterossexualidade em que eu nunca coube. São talvez as causas principais do que pareou, em mim, o choro e a tristeza. A vergonha por chorar não é um traço de personalidade, é o resultado de um conjunto de ideias normativas sobre o que significa ser homem. E não é mera questão de lágrimas, o que está em jogo no chorar é a vulnerabilidade, ser colado à ideia de alguém que amolece frente aos sentimentos e, portanto, é fraco. Não há novidade nisso. O que é novo para mim é a admissão dessa fraqueza, e a descoberta de que por meio dela eu me torno forte através dos outros. Descobri uma nova força nos amigos que me acolhem num abraço quando eu choro.
Tenho lembrado da professora. A memória daquela aula costumava me trazer apenas vergonha, mas agora tem trazido algo mais. Não é banal sentir o que os outros sentem, é o fundamento da sociabilidade, e a sensibilidade às dores e aos prazeres alheios, a mim, parece virtude. Desta perspectiva, vejo meus olhos mareados por outro ângulo. Ter participado tão de perto da dor de alguém, me fez sentir sua perda como se fosse minha, e aí é que está, foi também minha, foi nossa. A vulnerabilidade facilita a transferência das paixões, e assim possibilita a formação dos vínculos. Compartilhada, a dor abre caminhos. O choro incontido é uma espécie de comunicação, onde se apresenta uma nova via de acesso à relação. Menino, eu não havia ainda compreendido que a simpatia – esse misterioso princípio da natureza humana – vale as lágrimas.
Aquela foi uma aula que eu não esqueci. Vejo que esse é um traço geral dos momentos em que eu chorei. Eles duram. O que se emove quando choro é mais do que o presente: é o tempo das minhas mágoas, é a lembrança das minhas alegrias, é a vida dos meus antepassados, é o corte ainda não cicatrizado, é o medo e a esperança no agora. Ao chorar, o que me acontece é um transbordamento do tempo acumulado: a lágrima é tão semente quanto fruto da memória.
Dada a memória, percebo que a emoção não é um movimento superficial, e por isso tomo as pequenas coisas que me fazem chorar como indício para reconhecer o que me é realmente importante: a parte que se derrama dos olhos é apenas uma pequena gota do oceano que se movimenta em mim. Assim, as lágrimas aparecem como um caminho para a investigação, um convite para o mergulho, pelo qual eu me adentro e adenso. A abertura que o choro traz é um trajeto que pode levar tantos aos outros quanto a mim.
Recentemente, encontrei uma palavra para minha emocionada condição: sou patético. Ando pensando sobre seu significado. Ela costuma aparecer com desprezo, como sinônimo de ridículo. Chamar de patética uma pessoa é dizer que ela age de maneira vergonhosa, que se rebaixa aos próprios sentimentos, levando os outros a um embaraço de tristeza, raiva ou compaixão. No entanto, o uso de patético como insulto evidencia um moralismo do sentimento, uma aversão ao pathos. Se suspendermos a carga pejorativa, patética é apenas uma palavra para descrever uma pessoa na qual as emoções acontecem com intensidade e frequência pouco convencionais. Quanto mais me reconheço nessa ideia, mais percebo que meu choro vem menos acompanhado de tristeza do que eu imaginava.
Como eu disse, não choro apenas de tristeza. Ou melhor, não é só a tristeza que me escorre pelo rosto. Na maioria das vezes, é um complexo de sentimentos confusos que me faz chorar, e dentre eles também está a alegria. Como exemplo, trago um relato. Foi alguns dias atrás a última vez que chorei. Era domingo, eu estava na praia; o dia, quente, mas não demais; o mar, gelado, mas não tanto; o vento, fresco, mas não frio. De costas para o horizonte, dentro da água, eu vi a Lua em contraste com o azul celeste, flutuando sobre o verdejar das amendoeiras. Saí imediatamente do mar, tomado pelo ímpeto de compartilhar a beleza, fui até as árvores, peguei V. pela mão, e disse vem cá. Ele me seguiu até à beira do mar, eu virei e apontei, dizendo olha!, em surpresa ele exclamou num sorriso: a Lua!
De volta ao lugar efêmero em que habitamos aquela manhã – uma canga, duas bolsas e algumas garrafas d’água -, eu choro um pouco, escondido, por detrás dos óculos escuros. Seria difícil resumir aqui tudo o que ali me fez chorar. Não foi uma só nem nenhuma das coisas em específico. Foram todas elas. O quadro da minha experiência naquele instante era imenso. Como hábito, me contive, não disse nada, esperei passar, sem me fazer notar. Enquanto eu tentava entender o porquê daquele choro, me veio à cabeça uma frase: chorar de passar. A efemeridade tem doído, sinto uma angústia acompanhar como sombra as alegrias. Há de passar, essa frase que é prece quando sofro, também é corte quando fruo. Os dias belos têm seu custo: percebo em ato, e pago em lágrima. Eles mal passaram, e eu já quero que se repitam.
Referências
Tratado da Natureza Humana, David Hume
Potências do Tempo, David Lapoujade
A escrita como faca e outros textos, Annie Ernaux







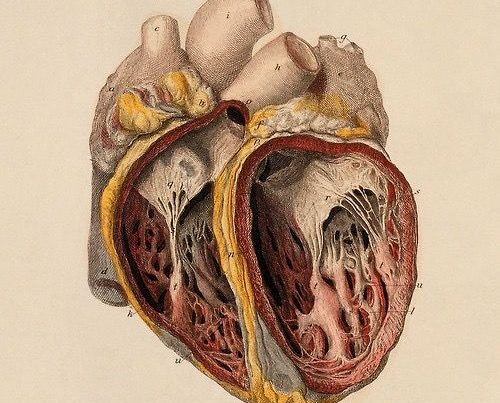
Estou aos prantos, me encontrei dentro do seu texto, CHORAR DE PASSAR.
MARAVILHOSO.
Choro todos os dias. Todos! E acabei de chorar lendo seu texto.
Belo texto, cara…de novo!
A emoção de chorar é intensa, importante, de fato catártica. No entanto não deveria. creio, ocupar todos os espaços, ser caminho demasiadamente repisado. A alegria, o abraço a felicidade pura do gargalhar sem culpa e sem medo. equilibra bem as lágrimas de toda sorte. Quanto à efemeridade, ela é afinal o que gera tudo! Os problemas e as dúvidas, o pensamento e as soluções. Para aqueles que vivem bem e de maneira equilibrada, a vida é muito longa, longa o suficiente… Aquele dia bonito de praia precisa acabar para que possam vir outros, ainda mais lindos e outros de tempestade…… Ler mais >